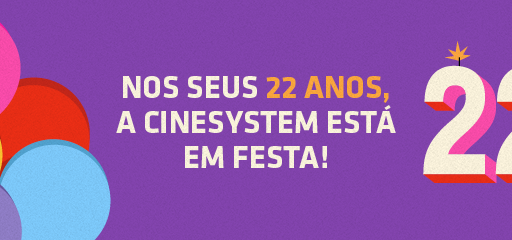Desde o encerramento épico com Vingadores: Ultimato, a Marvel Studios parece vagar por um limbo criativo. Seu universo cinematográfico, antes orquestrado como uma sinfonia grandiosa que conduzia cada personagem e narrativa a um clímax inquestionável, passou a tropeçar entre promessas não cumpridas, tramas desconexas e filmes que mais parecem episódios isolados de uma série sem rumo. A troca de rota — saindo da planejada Dinastia Kang para o agora anunciado Doomsday e Guerras Secretas — é sintomática de uma empresa que perdeu o controle da própria narrativa. Nesse cenário, poucas obras se destacam, como o emocionante Guardiões da Galáxia Vol. 3, mas são exceções em um mar de mediocridade. É por isso que Thunderbolts* chega ao público quase como um suspiro desacreditado — uma aposta esquecida. Mas eis que o inesperado acontece: o longa não apenas surpreende, como emociona.

Dirigido por Jake Schreier, conhecido por seu trabalho sensível e carregado de nuances em O Urso, Thunderbolts* se distancia das armaduras cintilantes e das piadas ininterruptas, para mergulhar em algo muito mais sombrio e humano: a depressão. É estranho falar sobre um filme da Marvel nesses termos, mas o longa consegue, com uma sinceridade desconcertante, explorar o vazio existencial daqueles que vivem às margens do heroísmo. Schreier entrega uma obra que, embora recheada de ação e momentos típicos do MCU, nunca abandona seu coração triste, dolorido e intensamente empático. Em um universo onde deuses, monstros e inteligências artificiais colidem, há algo de revolucionário em ver um grupo de personagens lidando não com uma ameaça cósmica, mas com seus próprios traumas e culpas.
A narrativa de Thunderbolts* gira em torno de uma equipe disfuncional, composta por figuras conhecidas do MCU, mas que aqui ganham contornos mais densos. Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Guardião Vermelho (David Harbour), Fantasma (Hannah John-Kamen), Treinadora (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell) são reunidos pela manipuladora Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) para uma missão suicida, que logo se revela uma emboscada cruel. Traídos e forçados a se confrontar com seus passados, esses “restos” do universo Marvel embarcam numa jornada de autoconhecimento e redenção. O filme evita o glamour habitual das superproduções para construir algo mais cru, mais humano, mais melancólico — quase como se Logan tivesse servido de inspiração espiritual.
Florence Pugh, como já era de se esperar, entrega uma das atuações mais tocantes do MCU. Sua Yelena está esgotada, quebrada por dentro. A perda da irmã, da família forjada, da própria identidade como heroína, a transforma em alguém que mal consegue seguir em frente. É nos diálogos com seu pai adotivo, o hilário e comovente Guardião Vermelho de David Harbour, que vemos a alma do filme pulsar. As cenas entre os dois carregam uma ternura amarga, um desejo de reconexão num mundo que parece não ter mais lugar para eles. Ao contrário dos Vingadores originais, que buscavam salvar o mundo, os Thunderbolts* estão tentando apenas salvar a si mesmos — e isso é, por vezes, muito mais difícil.
Os demais integrantes do grupo oscilam entre brilho e esquecimento. Wyatt Russell entrega um John Walker mais contido e amargurado, lidando com as consequências de suas escolhas passadas, mas seu arco é subexplorado. Pior sorte tem Fantasma e Treinadora, personagens que poderiam trazer nuances fascinantes — sobretudo a dor física e psicológica da primeira — mas acabam relegadas a figurantes de luxo. É um erro de equilíbrio do roteiro, que parece não saber o que fazer com tantas peças no tabuleiro. Ainda assim, quando o filme foca no essencial — dor, perda, empatia —, ele brilha com uma luz inesperadamente sombria.
A entrada de Lewis Pullman como Bob, o Sentinela, traz uma camada de complexidade rara. Sua presença não serve apenas para o embate físico, mas como catalisador de reflexões profundas. Ele é um espelho, uma metáfora viva dos monstros internos que cada personagem tenta enterrar. Sua força bruta só é superada pela força emocional dos demais em enfrentarem seus próprios fantasmas. É aqui que o filme alcança um dos seus pontos mais altos, evitando o maniqueísmo raso que tantas vezes define os vilões do MCU.
Tecnicamente, Thunderbolts não decepciona. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para a sequência inicial que combina tensão e brutalidade. Jake Schreier filma os combates com uma câmera mais próxima, menos estilizada, mais suja, quase documental — uma escolha acertada para manter a atmosfera depressiva e opressora da trama. A trilha sonora é discreta, mas eficaz, pontuando os momentos dramáticos com sensibilidade, sem cair no melodrama. E o desfecho, embora aberto e claramente voltado para futuras conexões dentro do MCU, é surpreendentemente intimista, encerrando o arco emocional dos personagens com honestidade.
Thunderbolts não é um filme perfeito — poucos são. Há falhas estruturais, personagens desperdiçados e algumas conveniências narrativas típicas do estúdio. Mas ele é, talvez, o mais humano dos filmes da Marvel em anos. Sua maior virtude é não tentar ser mais um blockbuster espalhafatoso, e sim um drama disfarçado de ação, um grito silencioso por empatia em meio ao ruído das explosões. Em vez de prometer mundos sendo destruídos por raios cósmicos, Thunderbolts se contenta — e nos contenta — ao explorar o que acontece dentro da alma daqueles que não se acham dignos de serem chamados de heróis.
Com duas cenas pós-créditos — a segunda delas carregada de implicações para o próximo Vingadores — o filme entrega também o que os fãs do MCU esperam: conexões, promessas, ganchos. Mas se o coração do público bater mais forte durante a projeção, será por razões mais íntimas, mais dolorosas, mais reais. Porque Thunderbolts* entende que o pior inimigo, às vezes, não vem de outro planeta — ele vive dentro de nós.
BOM
Porque Thunderbolts* entende que o pior inimigo, às vezes, não vem de outro planeta — ele vive dentro de nós.